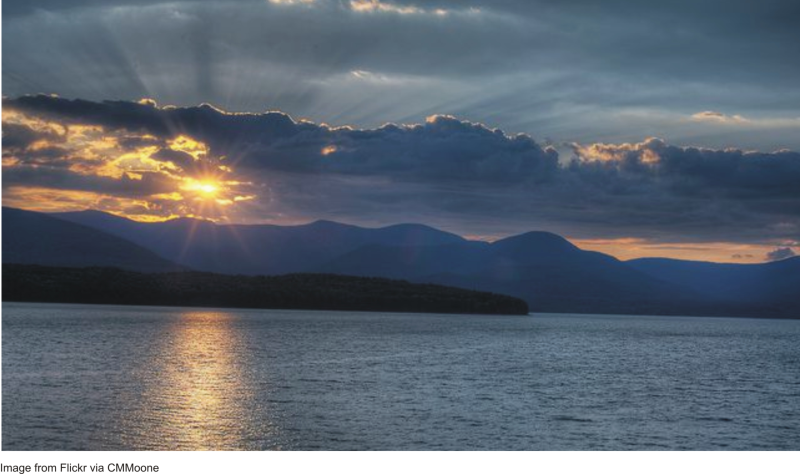Entre os anos de 2009 e 2010, morei em Porto Velho, em Rondônia, onde fui trabalhar nas obras de implantação do sistema de esgotos da cidade. Apesar de ser a capital e a maior cidade do Estado, Porto Velho não tem uma agenda cultural e de lazer das melhores – em muitos fins de semana, era difícil vencer o tédio. Para fugir da mesmice, era comum pegar o carro e viajar para outras cidades como forma de “passar o tempo”. Uma das cidades visitadas com alguma frequência era Humaitá, no Sul do Estado do Amazonas, distante cerca de 200 km de Porto Velho.
Na primeira vez que fiz uma viagem até Humaitá, observei uma grande área desmatada na beira da rodovia, talvez com uns 5 km². Meses depois, refazendo a viagem pelo mesmo caminho, vi que essa área havia recebido o plantio de milhares de mudas de árvores, que imaginei na época serem mudas de eucalipto. Conversando depois com um colega natural da região, fiquei sabendo que aquela era mais uma plantação de teca, uma espécie de árvore nativa do Sudeste Asiático e que estava se transformando numa verdadeira praga na Floresta Amazônica.
A teca (Tectona grandis) é uma espécie de árvore tropical de crescimento rápido, que produz uma madeira de ótima qualidade e com uma textura similar à do mogno brasileiro. A espécie é cultivada em larga escala desde o século XVIII em países como a Índia, Burma, Tailândia, Laos, Camboja, Vietnã e Indonésia. Em décadas recentes, a espécie foi introduzida em áreas tropicais de países como Togo, Camarões, Zaire, Nigéria, Trinidad e Tobago, Honduras e no Brasil. Atualmente, as áreas com plantações de teca no mundo são estimadas em mais de 3 milhões de hectares.
O sucesso e a expansão das plantações de teca pelo mundo afora tem uma razão muito simples: o metro cúbico da madeira no mercado internacional pode valer entre US$ 400 e US$ 3 mil, a depender da qualidade da textura da madeira e da bitola das toras. Esse é um ótimo argumento para alguém desmatar uma grande área da Floresta Amazônica, lembrando do caso citado de Humaitá, para plantar essa árvore exótica.
Uma outra espécie exótica que vem ganhando espaço na Região Amazônica é a palma-da-Guiné ou dendezeiro (Elaeis guineensis), que produz um fruto rico em óleo e muito conhecido pelos brasileiros: o azeite de dendê. A espécie é originária da costa Oeste do continente africano, no trecho entre o Senegal e Angola. De acordo com estudos históricos, o dendê vem sendo utilizado pelas populações há mais de 5 mil anos. No Brasil, a espécie foi introduzida no Período Colonial, quando era intenso o trânsito de navios negreiros e mercantes entre a África e o Brasil. Uma extensa região no Estado da Bahia passou a ser dedicada ao cultivo da palma-da-Guiné. Na década de 1960, foram introduzidas as primeiras mudas da espécie no Pará, Estado que responde atualmente por 70% da produção brasileira.
O dendê se destaca pela sua alta produtividade de óleo: uma plantação com um hectare de palma-da-Guiné pode produzir cerca de 5 toneladas de óleo, contra 700 kg da mesma área com mamona e 500 kg no caso da soja. O óleo ou azeite de dendê é o mais comercializado do mundo, respondendo por 30% do mercado total de óleos de origem vegetal e por 45% do mercado de óleos específicos para alimentos, gerando negócios anuais da ordem de US$ 45 bilhões.
Uma das aplicações mais recentes do azeite de dendê é o seu uso como biocombustível em motores a diesel. A abertura de campos agrícolas para o plantio de dendezeiros responde por cerca de 0,4% dos desmatamentos mundiais – na Indonésia e Malásia, entretanto, essa cultura responde por metade dos desmatamentos. Ou seja, o biocombustível renovável feito a partir dos frutos do dendezeiro é o maior responsável pela destruição das Florestas Equatoriais do Sudeste Asiático.
No Brasil, a cultura da palma-da-Guiné ocupa uma área total superior a 230 mil hectares, sendo que mais de 200 mil hectares estão localizados em áreas da Floresta Amazônica no Estado do Pará. Segundo estimativas do Governo Federal, que fazem parte do Programa de Produção Sustentável de Palma de Óleo, existem 30 milhões de hectares adequados para a produção de azeite de dendê no Brasil, especialmente na Amazônia. A princípio, essas já são áreas degradadas e que poderiam ser “reflorestadas” através de plantações de palma-da-Guiné – porém, a exemplo do que vem ocorrendo com as florestas tropicais do Sudeste Asiático, nada impede que áreas da Floresta Amazônica venham a ser suprimidas para a expansão de plantações de palma.
Outras espécies exóticas que vêm conquistando espaço na Amazônia são o eucalipto e o pinus. O eucalipto foi introduzido no Brasil em 1868 com o objetivo de fornecer lenha em grande quantidade para alimentar as locomotivas a vapor que transportavam as grandes cargas de café produzidas no Estado de São Paulo. A espécie é originária da Austrália e da Indonésia, sendo uma árvore de grande porte e de crescimento muito rápido, justamente o que as autoridades da época buscavam. A madeira do eucalipto também era indicada para a produção de dormentes para ferrovias, mourões, postes e também tábuas, caibros e vigas para uso na construção civil.
Uma aplicação menos nobre, mas muito importante era seu uso para a produção de carvão vegetal para consumo na siderurgia – o Brasil sempre foi carente de fontes de carvão mineral. Em Minas Gerais, o maior produtor brasileiro de minério de ferro, grandes extensões de Mata Atlântica no Estado foram devastadas ao longo de várias décadas para a produção de carvão vegetal para uso nos altos-fornos das empresas siderúrgicas. Só em anos bem recentes, com a adoção de normas rígidas de preservação ambiental, é que a madeira do eucalipto de áreas de reflorestamento passou a ser usada para a produção desse carvão.
Na Região Amazônica algo semelhante está acontecendo – com a criação do Projeto Carajás nas décadas de 1970 e 1980, onde é feita a exploração da maior jazida de minério de ferro do mundo, passaram a surgir inúmeras empresas produtoras de ferro-gusa no Pará e no Maranhão. Para suprir parte das necessidades de carvão dessas empresas, pequenos produtores de carvão vegetal passaram a derrubar trechos da Floresta Amazônica para a obtenção de lenha. Além do evidente crime ambiental, essas carvoarias (grande parte clandestinas) são famosas pelo uso de mão de obra escrava e infantil.
O plantio de eucalipto em áreas desmatadas da Amazônia vem ganhando força nos últimos anos como uma alternativa para o fornecimento de lenha para a produção de carvão vegetal. De acordo com estudos da UFPA – Universidade Federal do Pará, as empresas siderúrgicas da região demandam um consumo anual de 3,5 milhões de toneladas de carvão vegetal, sendo necessário 22,5 milhões de metros cúbicos de madeira para se obter essa produção de carvão. Desse consumo de madeira, mais de 12 milhões de metros cúbicos são extraídos ilegalmente através de desmatamentos na Floresta Amazônica.
O pinus (Pinus elliotti) é uma espécie originária da América do Norte, também de rápido crescimento, fácil adaptação a solos pobres e que não tem inimigos naturais, predadores ou herbívoros que se alimentem de suas sementes aqui no Brasil. A madeira do pinus é largamente utilizada para a fabricação de papel e celulose, o que levou a espécie ser muito difundida em todo o mundo. O pinus é considerada a espécie de planta mais agressiva do mundo. Conforme comentamos em outras postagens, os solos da Amazônia são pobres e extremamente ácidos, se degradando rapidamente após a derrubada da mata. É justamente nesses solos degradados onde estão sendo implantadas grandes plantações de pinus por toda a Amazônia.
A maior e mais rica floresta equatorial do mundo, a Amazônia, está sendo destruída pouco a pouco pela extração ilegal de madeira, pelas queimadas e pelo avanço da agropecuária. Em muitos lugares onde outrora havia a Floresta nativa, estão surgindo plantações de árvores exóticas como a teca, o eucalipto, o pinus a palmeira-da-Guiné, entre muitas outras espécies. Um cenário cada vez mais surreal.
Já a Biodiversidade Amazônica, pensam eles, essa que se dane…
Para saber mais: