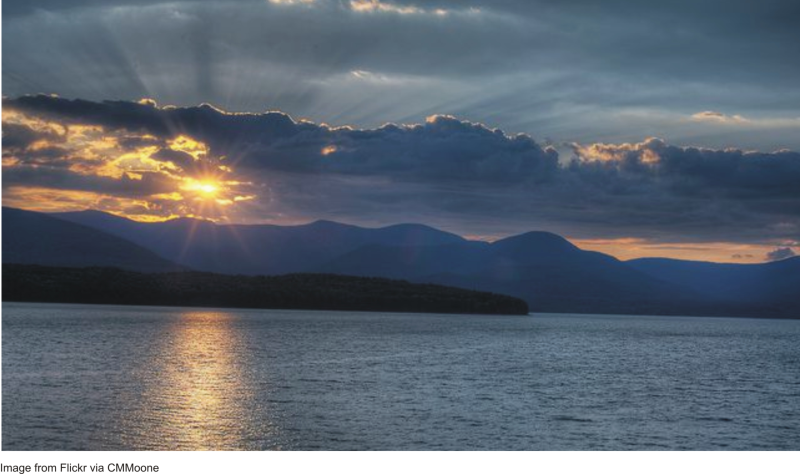Começo confessando que o título da postagem é sensacionalista – os pirarucus ainda não chegaram ao rio Tietê, mas já estão vivendo em águas bem próximas.
Pirarucus, espécie típica da Bacia Amazônica, estão sendo pescados com uma frequência cada vez maior no Rio Grande, importante corpo d’água que divide os Estados de São Paulo e Minas Gerais.
A distância entre a foz do Rio Tietê no Rio Paraná e a confluência dos Rios Grande e Paranaíba, ponto onde começa o Rio Paraná, é de menos de 150 km. Logo, será apenas uma questão de tempo para que o título da postagem reflita a realidade.
Vamos entender qual é a verdade que está por trás dessa história.
O pirarucu (Arapaima gigas), também conhecido como arapaima ou peixe pirosca, é o maior peixe de escamas dos rios brasileiros e um dos maiores do mundo, podendo atingir até 3,5 metros de comprimento e um peso de até 250 kg. O animal é um grande predador onívoro dos rios da Bacia Amazônica, se alimentando de peixes, caramujos, crustáceos, anfíbios, cágados e cobras, entre outros, de uma enorme lista de presas. Quando jovem, o pirarucu se alimenta basicamente de plâncton, plantas e animais microscópicos que vivem livres nas águas dos rios, passando depois a comer pequenos peixes. O peixe pode viver até 18 anos.
A espécie possui uma grande cabeça achatada, com mandíbulas salientes e um grande corpo cilíndrico. Uma das características físicas mais interessantes do pirarucu é o fato da espécie possuir dois sistemas respiratórios. Como ocorre com a imensa maioria dos peixes, o pirarucu possui um sistema de brânquias para respiração aquática – esse órgão consegue extrair o oxigênio dissolvido na água.
Também possui uma bexiga natatória modificada, que funciona como um pulmão e que permite que o pirarucu também realize a respiração aérea, uma característica chamada na biologia de “respiração acessória”. Esse mecanismo de respiração extra é fundamental nos períodos da seca, quando os rios Amazônicos têm seus níveis dramaticamente reduzidos e peixes com as proporções do pirarucu ficam sujeitos a riscos de encalhe ou aprisionamento em poças d’água.
Uma forma comum de se encontrar pirarucus a venda na região Amazônica é na forma de “mantas” salgadas, similares ao bacalhau. Aliás, o pirarucu é conhecido como o “bacalhau da Amazônia”. Ao contrário do que muitos podem imaginar, a alcunha não se deve ao formato das peças de peixe salgadas, mas sim a uma grande “esperteza” de padres Jesuítas que, durante décadas a fio nos tempos do Brasil Colônia, processavam os pirarucus em suas fazendas espalhadas por toda a Floresta Amazônica e exportavam os peixes para Portugal, onde as peças eram vendidas ao público como um “legítimo” bacalhau.
Essa espécie de peixe amazônico vem sendo encontrado com frequência cada vez maior em rios dos Estados de São Paulo, Minas Gerais, Bahia, além de rios do Pantanal em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. A foto que ilustra essa postagem mostra a alegria de um grupo que capturou um pirarucu num rio da Bahia. Essa “migração” não tem nada de natural – pessoas estão soltando alevinos e filhotes de pirarucus nos rios desses Estados.
Para qualquer pescador, amador ou profissional, pescar um peixe do tamanho de um pirarucu é um feito em tanto. Aliás, os grandes pirarucus costumam ser pescados com o uso de arpões na Amazônia. A alegria dos pescadores, entretanto, é trágica para a fauna nativa de um rio – todos os peixes menores, moluscos, crustáceos, anfíbios e répteis se transformam em caça para um predador carnívoro do porte do pirarucu.
Os impactos ambientais criados pela introdução dessa espécie exótica em um corpo d’água pode ser exemplificado pela invasão das águas do Lago Vitória, na África, por peixes da espécie perca-do-nilo. A perca é um predador de topo na cadeia alimentar, que pode superar os 250 kg de peso e atingir um comprimento de até 2 metros. A espécie é nativa da bacia do médio e baixo Rio Nilo.
As percas foram introduzidas no Lago Vitória em meados da década de 1950, com o objetivo de garantir a produtividade da atividade pesqueira, que a época estava em franca decadência. Apesar do verdadeiro desastre ambiental que seria deflagrado pela introdução dessa espécie exótica no Lago Vitória, as populações locais acabaram fortemente impactadas pela exploração desse novo recurso pesqueiro.
A carne da perca-do-Nilo era muito mais rica em gordura que a grande maioria dos peixes nativos, sendo, portanto, muito mais valorizada comercialmente. Rapidamente, milhares de pescadores tradicionais passaram a se dedicar à pesca comercial das percas.
Entretanto, o sucesso comercial dessa nova espécie teve um alto custo ambiental. Seguindo o princípio da conservação da matéria, que diz de maneira bem simplificada que “nada se cria, nada se perde – tudo se transforma”, a produção de grandes quantidades de uma espécie de peixe requer, no mínimo, que uma quantidade equivalente de alimentos tenha sido introduzida na equação, ou seja, nas águas do lago.
Apesar de grande, o Lago Vitória tem recursos naturais finitos, o que estabelece limites para o suporte de vida das populações de peixes. Além de predar todas as espécies de peixes nativos do Lago, as percas-do-Nilo passaram a se valer do canibalismo para suprir parte das suas necessidades calóricas, onde os espécimes maiores passaram a devorar os espécimes menores. Essa competição por fontes de alimentos está levando a antiga diversidade de espécies do Lago Vitória ao colapso. Vale lembrar que a única espécie que preda a perca-do-Nilo são os humanos.
A tragédia ambiental do Lago Vitória tem tudo para se repetir nos rios que estão sendo invadidos pelos pirarucus. Não se espantem ao notarem que tucunarés, tilápias, corvinas, piranhas, pacús, porquinhos, bagres, tabaranas, traíras e lambaris, entre muitas outras espécies de peixes comuns em rios brasileiros, comecem a desaparecer de rios e mercados de alguns Estados, e pirarucus frescos comecem a aparecer nas bancas.
Esse será apenas mais um capítulo da história da introdução de espécies exóticas em um outro habitat.