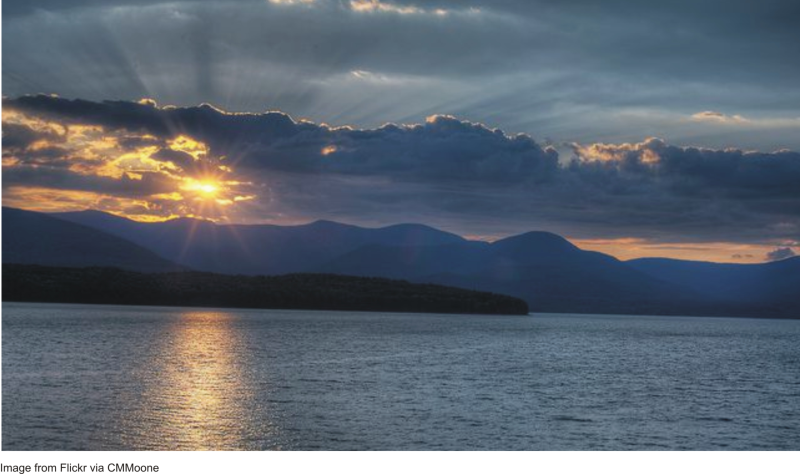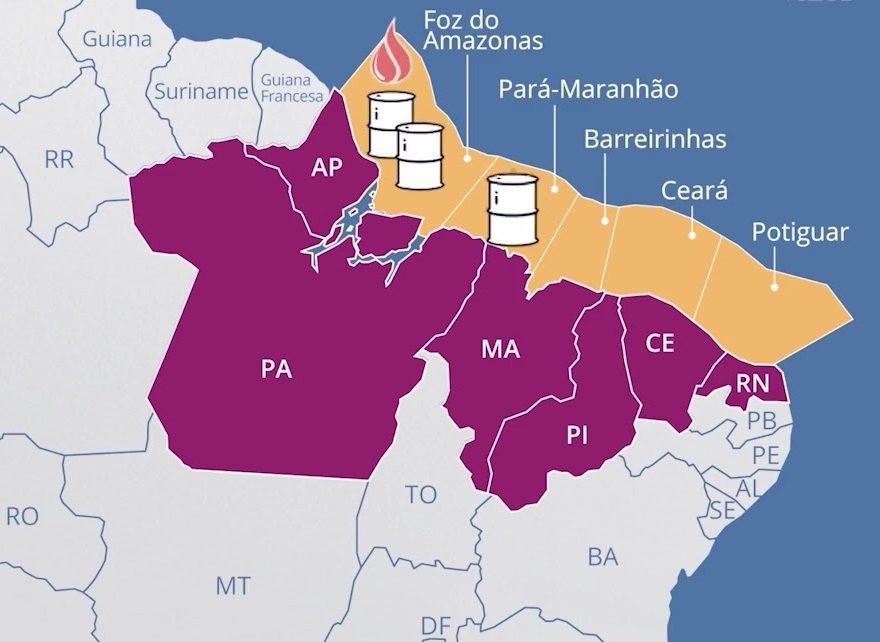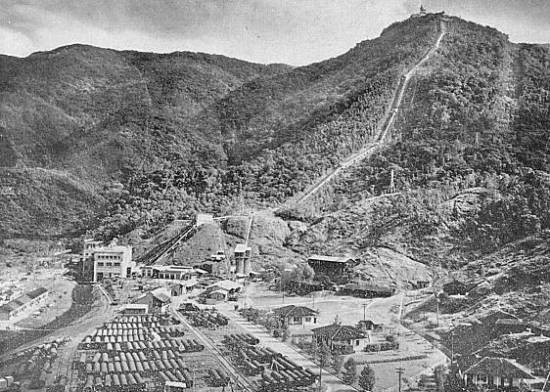Ameaças à fauna e à flora estão por todos os lados e são, quase que diariamente, temas de notícias e reportagens especiais nas redes sociais e nos meios de comunicação tradicionais. Os vilões são, invariavelmente, a destruição e a queima de florestas, o avanço da agricultura, mineração e criação de animais; o crescimento desordenado de cidades, a poluição das águas de rios, lagos e mares; a queima de combustíveis fósseis, entre outras ameaças.
Todo esse conjunto de “vilões clichês” da natureza estão bem cristalizados no imaginário popular. Falar de outros tipos de ameaça ao meio ambiente pode até soar como algum tipo de heresia. Entretanto, existe um tipo de ameaça à fauna silvestre que convive conosco em nossas casas, ruas e outros logradouros públicos, que raramente levamos em conta – os gatos domésticos.
Sim, eles mesmos – nossos fofos e amados gatinhos de estimação!
Uma pequena amostra da periculosidade dos bichanos – de acordo com estimativas ambientais realizadas nos Estados Unidos, gatos domésticos (Felix silvestris catus) matam a cada ano 2,4 bilhões de aves, 12,3 bilhões de mamíferos, 478 milhões de répteis e 173 milhões de anfíbios – exclusivamente dentro do território norte-americano.
Muitos dirão que os gatos são exímios caçadores de ratos, realizando assim um importante serviço no controle de epidemias. Sim, isso é a mais absoluta verdade. A lista de animais caçados, entretanto, é enorme. Estudos indicam que mais de duas mil espécies são caçadas por gatos domésticos, em sua imensa maioria formada por animais com menos de 5 kg de peso.
Diferente de seus primos selvagens, os gatos domésticos costumam ser alimentados por seus donos ou, no caso dos chamados “vira-latas”, vasculham sacos e latas de lixo para conseguir alguma coisa para comer. Mesmo assim, de barriga cheia, esses animais costumam sair em passeios por áreas silvestres próximas de suas casas para exercitar seus instintos de caçador, matando um ou outro animal apenas por “diversão”.
Ao contrário de muitos dos seus primos selvagens, que vem sofrendo com a perda de seus habitats e áreas de caça, sofrendo assim de risco de extinção em muitas regiões, a população de gatos domésticos não para de crescer. Aqui no Brasil estima-se que mais de 29 milhões de gatos vivem em casas e ruas de nossas cidades. Nos Estados Unidos são estimados em 84 milhões de animais e, em países desenvolvidos, se estima algo como um gato para cada quinze habitantes.
De acordo com estimativas de arqueólogos e outros cientistas, pequenos gatos selvagens começaram a se aproximar de assentamentos humanos há cerca de 8 ou 9 mil anos, especialmente na África. Esse foi um período marcado pelo início da agricultura e abandono da vida de nômades caçadores/coletores por muitos grupos humanos.
Esses gatos passaram a rondar os agrupamentos humanos em busca de alimentos fáceis proporcionados por criações domésticas como galinhas, patos e coelhos. Também visavam a caça de um animal “doméstico” indesejado – os ratos. Isso mesmo – ratos são classificados como animais sinantrópicos, ou seja, animais que aprenderam a viver junto com os seres humanos. Nessa lista se incluem também baratas, pulgas, carrapatos, formigas, abelhas, centopeias, lagartixas e morcegos, entre muitos outros.
Os ratos domésticos ou camundongos (Mus musculus), os ratos pretos (Rattus rattus) e as ratazanas (Rattus norvegicus), conhecidas em algumas regiões como gabirus, são originários das planícies da Ásia Central. Esses animais se aproximaram dos assentamentos humanos em busca de alimentos, especialmente os grãos que passaram a ser estocados em silos e celeiros. Com as migrações humanas, esses animais seguiram as caravanas e se espalharam por todo o mundo.
Além de causar perdas nos estoques de alimentos, os ratos passaram a transmitir um sem-número de doenças aos grupos humanos. Quando essas pessoas perceberam que os gatos caçavam e comiam esses ratos, rapidamente passaram a adotar os simpáticos gatos como animais de estimação. Estimativas atuais falam de mais de 250 raças diferentes de gatos.
Apesar da boa e confortável vida doméstica, com abrigo, comida e muito carinho, os gatos nunca perderam seus instintos de caçador furtivo. Também mantiveram muitos dos seus hábitos ancestrais como a hiperatividade noturna e o gosto por longos passeios pelo “seu território”. E são justamente nesses passeios noturnos onde se deixam levar pelos instintos mais primitivos de caçador.
Muitos que tem um gato de estimação em casa já foram surpreendidos com o recebimento de “presentes” trazidos pelos animais – pássaros, lagartos ou outros animais mortos, caçados durante a última noite. Estima-se que, pelo menos, 33 espécies de animais silvestres foram levadas à extinção por ação direta de gatos domésticos.
A pior parte dessa história – qual ambientalista consegue convencer os donos de um desses fofos e simpáticos animais de sua periculosidade para a fauna silvestre?