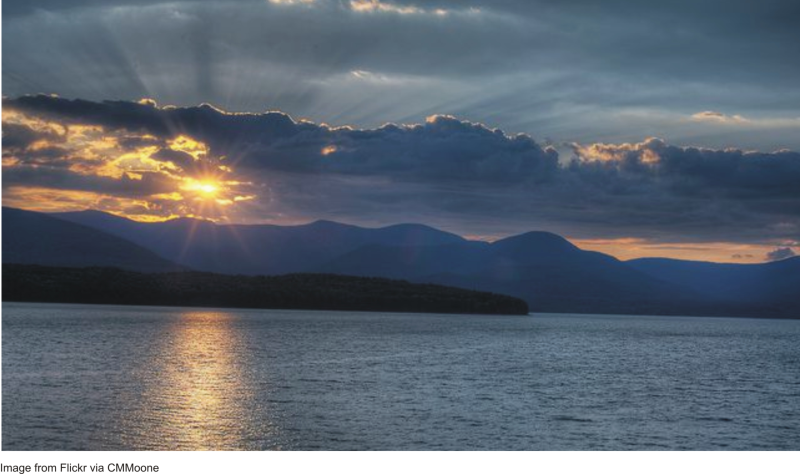Na mesma semana em que tratamos da intensa devastação das florestas do Estado do Paraná, onde a derrubada de árvores para a criação de campos agrícolas e também para a exploração madeireira já consumiu quase 84% das florestas e matas nativas, criando todo um “pacote” de problemas ambientais no Estado, somos surpreendidos por mais uma das mais mirabolantes ideias do Governo de Donald Trump: aumentar a exploração madeireira para conter o avanço e a intensidade dos incêndios florestais nos Estados Unidos.
Veja o texto completo da reportagem, publicado pela edição eletrônica da Revista Exame em 17/08/2018, e tire suas próprias conclusões:
“Os ambientalistas têm afirmado que o governo Trump agravou problema dos incêndios ao cancelar políticas para redução do efeito estufa
O governo Trump anunciou uma nova política de combate aos incêndios florestais, reiterando sua afirmação de que a melhor resposta é um gerenciamento mais eficaz das florestas, e não o foco nas mudanças climáticas.
O secretário de Agricultura, Sonny Perdue, disse na quinta-feira que o Serviço Florestal dos EUA ampliaria a exploração madeireira e a queima controlada em terras federais para reduzir a quantidade de combustível disponível que provoca incêndios florestais cada vez mais severos. Ele ignorou questionamentos sobre se as mudanças climáticas estavam piorando os incêndios.
“Muita gente, quando se fala em mudança climática, quer debater a respeito das causas”, disse Perdue. “Nós estamos tentando falar sobre o impacto.”
Ryan Zinke, secretário do Departamento do Interior, disse que a remoção das árvores mortas que alimentam incêndios é a melhor abordagem. “Independentemente de você ser ativista ou negar o aquecimento global”, disse, no início de uma reunião de gabinete na Casa Branca, na quinta-feira, não importa se há madeira apodrecendo nas florestas.
Zinke reconheceu que o aquecimento global contribui para os incêndios florestais. “As temperaturas estão subindo”, disse Zinke, que respondeu “é claro” quando indagado se aceitava que a mudança climática era parte do problema.
Os ambientalistas têm afirmado que o governo Trump agravou o problema ao cancelar políticas para redução das emissões de gases causadores do efeito estufa. Depois que Zinke afirmou, na semana passada, que políticas apoiadas por “ambientalistas radicais” tinham parte da culpa pelos incêndios florestais, o Sierra Club reagiu.
“Zinke, assim como Trump, continua negando o óbvio”, disse Kirin Kennedy, diretora legislativa associada para terras e vida selvagem do Sierra Club, por e-mail. “São as mudanças climáticas que estão piorando a temporada de incêndios florestais na região oeste.”
A estratégia anunciada na quinta-feira gerou reações divergentes dos ambientalistas — incluindo Kennedy.
O problema dos incêndios florestais exige “mais proteção perto de residências e empresas, e menos exploração madeireira em áreas selvagens, onde não oferece proteção adicional contra incêndios”, disse Kennedy.
Kameran Onley, diretora de relações com o governo dos EUA da Nature Conservancy, disse em comunicado que “reduzir os combustíveis e melhorar as condições das florestas são as melhores estratégias para diminuir a ameaça dos incêndios florestais catastróficos, e nós apoiamos as estratégias delineadas pelo secretário”.
No início da reunião de gabinete, o presidente Donald Trump criticou as políticas da Califórnia para a água, destinadas a proteger o suprimento de água potável e os habitats dos peixes limitando desvios de água para uso agrícola. As autoridades da Califórnia responsáveis pelo combate aos incêndios têm afirmado que não falta água para apagar os incêndios.
“Ryan estava dizendo que não é uma questão de aquecimento global, é uma questão de gestão”, disse Trump.”
Por Christopher Flavelle e Justin Sink, da Bloomberg