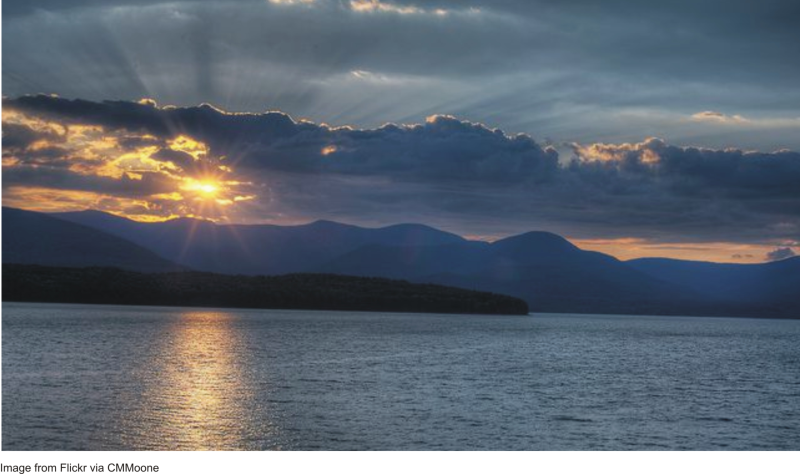Entre os dias 17 e 18 de julho de 1975, a cidade do Recife viveu a maior catástrofe natural da sua história: o transbordamento do rio Capibaribe atingiu 31 bairros e alagou 80% da superfície da cidade (vide foto) – 350 mil pessoas foram desalojadas de suas casas e, tragicamente, 104 pessoas morreram. As fortes enchentes também atingiram outros 25 municípios da bacia hidrográfica do rio Capibaribe. Esta não foi nem a primeira, nem a última grande enchente do rio Capibaribe, mas sem dúvida é uma das mais trágicas da história.
O primeiro registro histórico de uma enchente no Capibaribe data do ano de 1632, pouco tempo depois da invasão holandesa e a consolidação da Suickerland, a terra do açúcar descrita em uma postagem anterior. Registros da época informam que as chuvas foram muito fortes, “causando perdas de muitas casas e vivandeiros estabelecidos às margens do Rio Capibaribe”. Anos mais tarde, em 1638, o Conde Maurício de Nassau autoriza a construção da primeira barragem do Rio Capibaribe – o Dique dos Afogados, com o objetivo de proteger a cidade do Recife das constantes enchentes. Há registros históricos de uma infinidade de enchentes na cidade: 1824, 1842, 1854, 1862, 1869, 1914, 1920, 1960, 1966, 1970, 1977, 2004 e 2005 – a lista é muito maior e estou apenas citando alguns casos. Deixem-me tentar explicar algumas das causas deste fenômeno:
Ao longo de muitos milênios, os sistemas naturais foram se adaptando aos inevitáveis e periódicos ciclos de chuvas: canaletas naturais de escoamento foram escavadas por erosão nas faces de serras e montanhas, leitos de córregos e rios criaram áreas de várzeas para absorver o excedente de águas das cheias, pedras e gargantas em rios montanhosos foram moldadas para reter e reduzir a velocidade dos excedentes de água, os diferentes tipos de vegetação se adaptaram para armazenar parte da água da chuva e suas raízes foram adaptadas para forte fixação no solo e evitar o arrastro com a enxurrada. O próprio solo desenvolveu diferentes tipos de permeabilidade, absorvendo volumes consideráveis de água de chuva e assim reduzindo os volumes de água que correm desesperadamente a procura das partes baixas dos terrenos – são sistemas em equilíbrio.
Os diferentes tipos de intervenção humana nos meios naturais interferem com esse delicado equilíbrio natural, produzindo distorções na dinâmica das águas pluviais. Na agricultura, a remoção de grandes extensões de cobertura vegetal para a formação das culturas resulta em alterações nos volumes de absorção de água pelo solo e formação de grandes correntes de água: sem a proteção da vegetação que reduz a velocidade da correnteza, grandes volumes de solo agricultável são arrastados para os leitos dos rios. O assoreamento dos rios reduzirá cada vez mais a capacidade desse rio em receber futuros excedentes de águas de chuva – a água avançará cada vez mais na direção das bordas das margens e produzirá cada vez maiores assoreamentos neste rio. Cria-se uma continuidade de problemas que crescem cada vez mais.
Em grandes cidades como o Recife, o crescimento desenfreado das construções interfere cada vez mais na dinâmica das chuvas:
– A ocupação cada vez maior de encostas de morros leva a remoção da cobertura vegetal e ao corte do solo para a construção de habitações. Períodos de chuva mais intensos saturam o solo com água, o que pode provocar sérios desmoronamentos, com alto risco para os moradores;
– A impermeabilização do solo resultante da aplicação de imensas faixas de asfalto nas ruas, concretagem de calçadas e quintais, reduz drasticamente a absorção de água pelo solo e provoca a formação de fortes enxurradas, com enorme potencial de inundações;
– Construções ocupam grandes extensões de solo e concentram nos seus telhados grandes volumes de água que descem velozmente por sistemas de calhas e se somam as volumosas enxurradas do solo;
– Áreas de várzea, que originalmente absorviam os excedentes de águas nos períodos de chuva, foram aterradas para permitir o aumento da área disponível para as construções: ao longo de toda a história do Recife, grandes extensões de manguezais foram aterradas para permitir este avanço da cidade;
– Margens de rios e córregos foram retificadas e urbanizadas, diminuindo a área de recepção das águas excedentes e, em muitos casos, diminuindo a velocidade da correnteza do curso d’água, e aumentando assim o tempo de drenagem das águas da chuva.
– Restaram nas áreas urbanas poucas áreas verdes e remanescentes florestais com grande capacidade de absorção de água nos seus solos e pela vegetação.
As consequências dessa somatória de interferências humanas no meio ambiente urbano são enchentes cada vez maiores e mais frequentes nas cidades, deslizamentos de encostas de morros, prejuízos econômicos enormes e, tristemente, danos algumas vezes irreparáveis na saúde de populações inteiras, inclusive com situações de invalidez permanente ou morte dos mais desafortunados.
Além destas consequências mais imediatas, situações de catástrofe por enchentes tendem a provocar o desalojamento de famílias (temporário em áreas alagadas ou definitivo em casos de desmoronamentos), interrupções nos serviços de fornecimento de água, energia elétrica e gás, saturação nos sistemas de esgoto sanitário (por ligações irregulares de águas pluviais), contato direto das populações com águas contaminadas por esgotos, o que pode resultar na disseminação de doenças de veiculação hídrica como leptospirose, hepatite e cólera, entre outros problemas.
Essas tragédias não são uma exclusividade de grandes cidades brasileiras como Recife, Salvador, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre, para citar apenas algumas – elas atingem grandes metrópoles mundiais como Londres, Paris, Hamburgo, Calcutá, Camberra, Houston, entre outras. Eventos climáticos extremos como as enchentes em algumas regiões e grandes secas em outras são, na minha opinião e também na opinião de um grande número de estudiosos, resultados das muitas ações da humanidade contra a natureza.
No caso da Região Metropolitana do Recife, precisamos incluir no cálculo dos prejuízos das enchentes o intenso processo de destruição da faixa Nordeste da Mata Atlântica durante o ciclo do açúcar, que começou logo após a instalação da Capitânia de Pernambuco por Duarte Coelho e que, ainda hoje, tem suas repercussões nas águas do Capibaribe e de tantos outros rios da região. A destruição desta floresta produziu uma série de mudanças no clima regional com alterações no ciclo das chuvas, além de perda de fertilidade dos solos, redução da biodiversidade vegetal e animal, entre outros graves problemas.
Trataremos disto em nosso próximo post.