
Muito se fala da destruição da Floresta Amazônica, chamada por muitos de “a maior floresta e o pulmão do mundo”.
Essa temática, que vem sendo repetida à exaustão nos últimos tempos, contém, pelo menos, dois grandes erros: em primeiro lugar, a Amazônia não é a maior floresta do mundo – esse título, conforme já apresentamos em postagem anterior, pertence a Taiga, a Floresta Boreal ou das Coníferas. A Taiga ocupa uma superfície total de 15 milhões de km², o que é quase três vezes o tamanho da Floresta Amazônica.
A Floresta Amazônica também não é o pulmão do mundo – 54% do oxigênio do planeta é produzido pelas algas e fitoplanctons dos oceanos; os outros 46% são produzidos por diversos sistemas florestais ao redor do planeta, onde está incluída a Floresta Amazônica.
Para chatear um pouco mais esse pessoal – cerca de 85% do bioma Amazônico (não confundir com Amazônia Legal ou outras definições que são usadas) ainda está preservado. Se a conta incluir a superfície dos rios da Bacia Amazônica, que são muitos e bem caudalosos, essa porcentagem de área preservada da Floresta Amazônica chega próximo dos 87%. Ao ritmo em que andam as pressões internacionais em prol da conservação da Amazônia, esse grau de conservação vai se manter por muito tempo ainda. Amém!
Já a Mata Atlântica, bioma que raramente é lembrado nacionalmente e é praticamente desconhecido a nível internacional, essa é uma das florestas tropicais mais devastadas e ameaçadas do mundo. Segundo as estimativas mais recentes, algo entre 90% e 93% da Mata Atlântica já desapareceu por causa de ações humanas.
Nas últimas postagens falamos bastante da indústria canavieira em nosso país aos tempos do Período Colonial, quando praticamente todo o trecho nordestino da Mata Atlântica sucumbiu diante do avanço implacável dos canaviais. Há época da chegada da esquadra de Pedro Álvares Cabral em 1500, só para relembrar, a Mata Atlântica cobria cerca de 1,2 milhão de km² ou 15% do território brasileiro. A floresta se estendia do Rio Grande do Sul ao Rio Grande do Norte, com alguns trechos da mata avançando pelo interior do país e chegando até o Leste do Paraguai e Nordeste da Argentina.
Ao longo dos primeiros séculos da nossa colonização, a indústria açucareira ocupou uma extensa faixa de costa entre o Sul do Estado da Bahia e o Rio Grande do Norte, com cerca de 1.500 km de extensão. De acordo com as informações históricas, a largura da Mata Atlântica na região variava entre 60 e 80 km. Fazendo os devidos cálculos, chegaremos a uma área total ocupada pela cultura entre 90 mil e 120 mil km². Essa área correspondia a aproximadamente 10% da antiga área da Mata Atlântica no país.
Sem conseguir maiores êxitos, engenhos também foram erguidos no Sul do Estado da Bahia, no Espírito Santo e na Capitania de São Tomé (que ocupava o Sul capixaba e o Norte fluminense, porém sucumbiram diante da fúria dos indígenas. No litoral paulista, onde foram criadas as capitanias de São Vicente e de Santo Amaro, foram os constantes ataques de piratas e corsários os responsáveis pelo fracasso da indústria açucareira. Esses fracassos ajudaram esses trechos da Mata Atlântica a ganhar uma sobrevida. Já na Capitania do Rio de Janeiro, principalmente ao redor da Baía da Guanabara, houve um sucesso relativo.
Uma segunda frente de ataque a Mata Atlântica teve início com as descobertas de ouro nas Minas Geraes, ciclo iniciado em 1693 com as primeiras notícias das descobertas. Originalmente, a Mata Atlântica ocupava toda a faixa Leste de Minas Gerais, cobrindo cerca de 47% da superfície do Estado, a chamada Zona da Mata. Bandeirantes paulistas liderados por Manuel Borba Gato, dando continuidade às explorações iniciadas por seu genro – Fernão Dias Paes, encontraram minas de ouro na Serra do Sabarabuçu.
Uma verdadeira febre do ouro tomou a Colônia após a divulgação das primeiras notícias desses achados auríferos nas Geraes e provocou uma corrida sem precedentes para os sertões. Até meados do século XVIII, perto de 2/3 da escassa população brasileira, estimada há época em 500 mil habitantes, abandonaria a cultura da cana de açúcar no litoral, especialmente na região Nordeste, e seguiria rumo aos sertões das Geraes para se aventurar como garimpeiros.
O vale do Rio São Francisco, já densamente povoado e ocupado pelas fazendas de gado, foi o caminho seguido pela maior parte dessa corrente migratória, que se espalhou ao longo dos rios de toda a sua bacia hidrográfica e regiões lindeiras nas Geraes. Na busca alucinada pelo valioso ouro, cada pedra do leito e das margens dos rios foi revirada e cada barranco escavado, começando-se assim um intenso e contínuo processo de devastação ambiental. Nas palavras de Afonso d’Escragnolle Taunay:
“Intensa foi em todo o Brasil a crise determinada pela formidável perturbação aurífera, sob os pontos de vista social, econômico, sobretudo psicológico.”
Os garimpeiros e aventureiros começavam os seus trabalhos de prospecção revirando os cascalhos do leito e das margens dos rios procurando as pedras “pretas”, indicativo da presença do chamado ouro de aluvião. Um sobrenome muito comum em Minas Gerais – Catapreta, é uma lembrança desses tempos aventureiros. Esgotadas as possibilidades de sucesso nos rios, os barrancos próximos começavam a ser escavados.
A vegetação marginal, conhecida como mata ciliar, era completamente devastada numa faixa que podia superar a marca de muitas centenas de metros e os solos passavam a ser escavados em busca de sinais da presença de outo ou pedras preciosas. Esse tipo de vegetação, onde se incluem as famosas veredas dos contos de Guimarães Rosa, as matas de galeria, brejos e vegetação das lagoas marginais, entre outras, são fundamentais para proteger as margens dos processos erosivos e também formam refúgios para a vida animal.
Além dos impactos ligados diretamente às atividades mineradoras, essa grande população precisava também de madeira para a construção de casas e de infraestrutura para as minas, lenha para cozinhar, de campos para o plantio de roçados rudimentares de milho e mandioca para proporcionar uma alimentação básica. Conforme os volumes de ouro passaram a ser significativos, passou a ser necessária a construção das casas de fundição – tanto as oficiais da Coroa de Portugal, quando as clandestinas, onde o ouro era derretido, purificado e transformado em barras para o transporte até o litoral.
Ao longo de todo o século XVIII, cidades importantes como São João del Rei, Congonhas do Campo, Diamantina, Sabará e Ouro Preto (vide foto), entre muitas outras, foram surgindo e se consolidando por toda as regiões de mineração. As populações dessas cidades precisavam de alimentos, lenha, água, vias de transporte e outros recursos. Começaram a surgir fazendas, sítios, granjas e outros estabelecimentos para a criação de animais, estradas foram abertas e novos contingentes de migrantes não paravam de chegar. Minas Gerais se transformou no coração e alma da Colônia e cada vez mais matas eram derrubadas.
Diferentemente do que ocorreu com o trecho nordestino da Mata Atlântica, onde grandes trechos contínuos de vegetação foram destruídos pela força do fogo para a abertura de grandes campos de cana de açúcar, na Região das Geraes essa destruição foi feita numa espécie de “trabalho de formigas”. Dezenas de milhares de clareiras foram surgindo na matas por todos os lados – essas clareiras foram se encontrando paulatinamente com o passar do tempo e longos trechos de mata foram desaparecendo.
Foi uma época “dourada” – calcula-se que cerca de mil toneladas de ouro saiu das Geraes ao longo de todo o século XVIII e teve como destino os cofres da Coroa em Portugal. Já os custos ambientais dessa epopeia, esses ficaram para nós brasileiros.
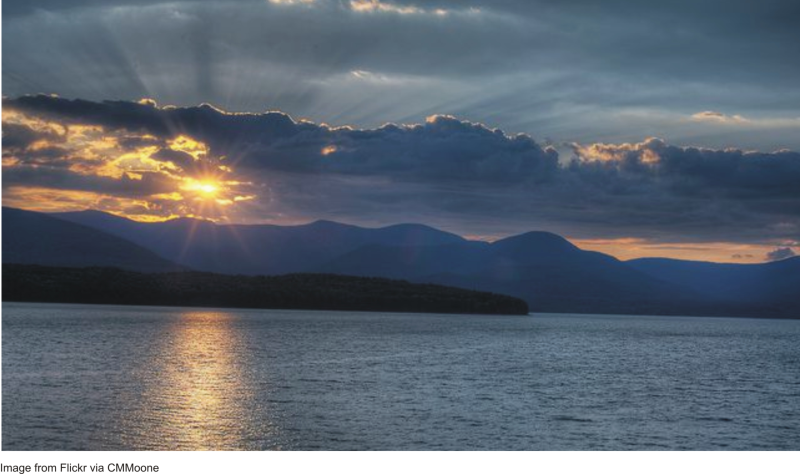
[…] A INTERIORIZAÇÃO DA DESTRUIÇÃO DA MATA ATLÂNTICA NO PERÍODO COLONIAL […]
CurtirCurtir
[…] A INTERIORIZAÇÃO DA DESTRUIÇÃO DA MATA ATLÂNTICA NO PERÍODO COLONIAL […]
CurtirCurtir
[…] A INTERIORIZAÇÃO DA DESTRUIÇÃO DA MATA ATLÂNTICA NO PERÍODO COLONIAL […]
CurtirCurtir
[…] momento complicado de nossa economia colonial, quando a produção do açúcar, do algodão e do ouro perderam relevância. Podemos dizer que o café foi uma espécie de “salvador da pátria” há […]
CurtirCurtir
[…] O CAFÉ NOSSO DE CADA… em A INTERIORIZAÇÃO DA DESTRUIÇÃO… […]
CurtirCurtir
[…] A CHEGADA DOS CAFEZA… em A INTERIORIZAÇÃO DA DESTRUIÇÃO… […]
CurtirCurtir
[…] 1763, após o início da exploração do ouro nas Minas Gerais, a capital da Colônia foi transferida de Salvador para a cidade do Rio de Janeiro. A proximidade […]
CurtirCurtir
[…] outro complicador surgiu em decorrência da exploração do ouro nas Geraes ao longo do século XVIII – para evitar o acesso de forasteiros e, especialmente, de […]
CurtirCurtir
[…] A CHEGADA DOS GRANDE… em A INTERIORIZAÇÃO DA DESTRUIÇÃO… […]
CurtirCurtir
[…] da indústria açucareira, a mão de obra negra foi deslocada ao longo do século XVIII para o garimpo e processamento do ouro nas Geraes. Por fim, teve início o Ciclo do Café a partir das últimas décadas do século XVIII e os […]
CurtirCurtir
[…] O “FIM” E O INÍCIO D… em A INTERIORIZAÇÃO DA DESTRUIÇÃO… […]
CurtirCurtir